
– por Victor Guimarães –
Crítica a partir do espetáculo Violento., de Preto Amparo (MG)
Trabalha, trabalha dentro de mim, grito armado do
meu povo; trabalha em mim
e espezinha, espezinha-me.
Quero que me estale o coração.
Quero que as veias me rebentem.
Quero que os meus ossos ranjam na meia-noite
da carne.
Aimé Césaire
Enquanto esperamos pelo início da peça, ouvimos um ruído. Surge no espaço tornado cena um rapaz negro, magro, de moletom e capuz, puxando por um barbante uma miniatura de carro de polícia enquanto um solo de berimbau insiste sob o blusão. Ele caminha por entre os espectadores, em silêncio altivo, esquadrinha os rostos, se detém em alguns. A cena instala o território dramático de Violento.: este será um espetáculo-performance, uma série ritmada de atos que trabalham sobre uma superfície de signos mais ou menos reconhecíveis – tanto os que reenviam à ancestralidade negra quanto a certo repertório contemporâneo de imagens da violência – para rasurá-los, perfurá-los, incendiá-los por dentro.
Dois vetores são inseparáveis: o trabalho sofisticado sobre os sentidos que partilhamos em comunidade e o aspecto brusco, irrepetível, da produção de uma forma singular de acontecimento e de convívio. Para fazer com que o signo adentre uma outra cadeia de sentidos é preciso primeiro ir até a raiz, despi-lo até o osso, transformá-lo em coisa concreta e material. Essa radicalidade se imprime na cena seguinte. Já dentro da sala convencional em formato de arena, presenciamos uma prática da disposição: Preto Amparo repousa o carrinho da polícia num canto, no outro há um saco de pipocas, no centro do palco há um balde d’água com um ramalhete de rosas vermelhas, que logo serão retiradas e colocadas no chão, à frente.
Cada elemento é ao mesmo tempo objeto e trabalho (e o vocábulo aqui não é fortuito): coisa significante e trabalho do sentido, superfície concreta e receptáculo do investimento imaginário (do performer, mas também do espectador). O desenho de luz recorta o espaço, destaca os elementos que pontuarão todo o espetáculo: como num tabuleiro, eis as coisas-signos, e é com elas que vamos jogar. Falta uma: enquanto dança, o ator toma um saco de terra e começa a dispô-la no chão, lenta e cuidadosamente, como alguém que semeia embalado por um canto de trabalho ou que prepara o terreno para o ritual de logo mais.

Foto: Pablo Bernardo
A noção de cenário aqui é capenga: um a um, todos os elementos dispostos serão não apenas partícipes da cena, mas propulsores dos acontecimentos cênicos. No limite, não há décor. No encontro das práticas religiosas de matriz africana com o teatro de vanguarda, o que há é um drama próprio dos objetos, um investimento radical na potência significante das coisas, mobilizadas por alguém que as faz existir para além da imobilidade. Depois de dispor os objetos, é hora de despir-se. Eis, aqui, um corpo: a evidência inescapável de um corpo negro, que reflete ou absorve luz, que emite som e suor, que age, sofre, padece, que desafia, que vive nesse ínterim em que estamos em sua presença.
É então que Violento. impõe à escrita um desafio estimulante: qualquer descrição desapaixonada dos atos de Preto Amparo durante os quarenta minutos do espetáculo pode sugerir um efeitismo banal. São gestos tão frontais, concisos e incisivos que beiram a anulação completa do poder de evocação do teatro. No entanto, não poderíamos estar mais distantes da cartada retórica. Como em Rolezinho – Nome Provisório, a cena curta dirigida por Alexandre de Sena que presenciei no Festival de Cenas Curtas em 2015, é preciso que o gesto fulminante (naquele caso, uma multidão crescente de pessoas negras que ocupam um palco e gritam em uníssono) se transforme em acontecimento no espaço e no tempo, que o sentido ganhe corpo e cor e som, que a duração se instale e permaneça, pois só assim é possível transformar um teatro em qualquer coisa menos um teatro, a escuta de um grito em qualquer coisa menos a escuta de um grito, um aplauso em qualquer coisa menos um aplauso.

Rolezinho – Nome Provisório, Galpão Cine Horto, 27/09/2015, foto de Dila Puccini
Quando as luzes se apagam e Preto Amparo desaparece na escuridão enquanto a sirene do carrinho de polícia rouba a cena, já é possível intuir que o brinquedo será atacado, mas nada nos prepara para a martelada certeira, sonora e implacável que dilacera a coisa-fetiche em mil pedaços num milésimo de segundo – ou para o silêncio denso que vem depois. A violência do golpe materializa o peso da história coletiva – a mão que martela não revida sozinha, há um sangue comum que corre por baixo daquelas veias – e se afirma enquanto ato, com uma sonoridade própria, uma duração singular. O golpe no sentido comum (o silenciamento instantâneo da sonoridade infernal da sirene centenária, o dilaceramento em mil caquinhos de plástico que se esparramam pelo chão) é também um golpe nos sentidos de cada espectador e espectadora presente.
Do mesmo modo, o balde d’água que começa recoberto por uma semântica da iniciação – como versa a primeira intervenção verbal do espetáculo – logo se transformará em instrumento de tortura, numa ambivalência crucial, mas tão importante quanto a elasticidade do sentido é o engajamento integral do corpo, o mergulho decidido para o autoafogamento e os sufocantes segundos em que a cabeça de Amparo permanece ali. A água da tortura se transformará ainda em banho, o sabão percorrerá a pele cheia de terra e, a cada esfrega, sentido e corporeidade se enlaçam, se afirmam, indissociáveis.

Foto: Pablo Bernardo
A dimensão umbilical da performance faz com que seja inimaginável outro ator ali, naquele papel, realizando os mesmos atos, mas se é verdade que o corpo de Preto Amparo, em sua presença com forte caráter de acontecimento, centraliza os atos e as atenções, há também toda uma tapeçaria de outras vozes que incidem na cena e compõem o espetáculo. A polifonia de referências – via trilha sonora e projeções – cobre um espectro amplo de repertórios, da música religiosa de Adão Dãxalebaradã às teorias revolucionárias de Frantz Fanon intermediadas pelo cinema de Aloysio Raulino. Como no rap de Douglas Din (cuja postura de interlocução de preto para preto associada à combatividade irreconciliada é um mote para o espetáculo), trata-se de convocar esses “outros bastas”, trazê-los à baila, forjar com eles uma rede intertextual que se comunique com outras lutas e intensifique a cena.

O Tigre e a Gazela (Aloysio Raulino, 1976)
No jogo com as referências, as citações ao filme-ensaio O Tigre e a Gazela são particularmente inventivas. Na obra-prima de Aloysio Raulino (um intrincado jogo entre palavras, sons e imagens que articula sequências forjadas no encontro com pessoas negras na rua e citações musicais e literárias de autores como Frantz Fanon, Aimé Césaire, Luiz Melodia, Lima Barreto, Joseph Haydn e Milton Nascimento), o plano de uma mulher cantando na rua ganha uma significação dialética. Na primeira das aparições, uma cartela fanoniana que denuncia a perversão do colonialismo (ao se orientar também ao passado do povo oprimido) precede o canto conciliatório, que diz: “Quando a Princesa Isabel / deu liberdade à cor / todo negro pode ser senhor / deputado, senador / não há mais preconceito de cor”. No entanto, próximo ao fim do filme, o que parecia uma confirmação contemporânea da perversidade colonial recebe uma puxada de tapete, pois a mulher agora reaparece em chave revolucionária, surrupia o canto do poder (o Hino da Independência), se enche de raiva na voz e confere uma expressividade ímpar aos versos “Brava gente brasileira / longe vá temor servil”. Em Violento., os dois planos aparecem condensados e sem a intervenção das cartelas, o que intensifica a operação dialética de Raulino ao mesmo tempo em que abre a citação para novos sentidos, ao samplear – via repetição – o verbo “morrer” presente no hino final.
No jogo com as citações, nas imagens que reenviam à cultura afro-brasileira, na textualidade complexa do espetáculo, Violento. enseja uma comunicação que assume uma perspectiva, visa uma interlocução fortemente negra, para a qual a exclusão radical da branquitude é fundamental. A combatividade do gesto é a mesma de Douglas Din: “E o que levarem de você, reclame com a Coroa Portuguesa”. Já próximo ao final, a cena mais impressionante: Amparo recolhe as rosas vermelhas e se dirige lentamente à plateia. A presença das flores, que parecia incoerente com a dicção combativa do espetáculo, adquire um sentido novo, rechaça inteiramente a expectativa da catarse conciliatória que o gesto de entregar uma rosa prometia. O ator inquire os rostos, olha com firmeza e carinho, entrega a primeira flor. Na segunda, percebo o jogo: só as pessoas negras presentes na plateia é que receberão as rosas, uma a uma. Tudo me escapa nessa comunicação silenciosa e intensa entre os olhares do ator e os das espectadoras e espectadores negros, mas entrevejo os sorrisos, adivinho a cumplicidade ensejada pelo gesto, imagino por um momento o que pode significar essa escolha.
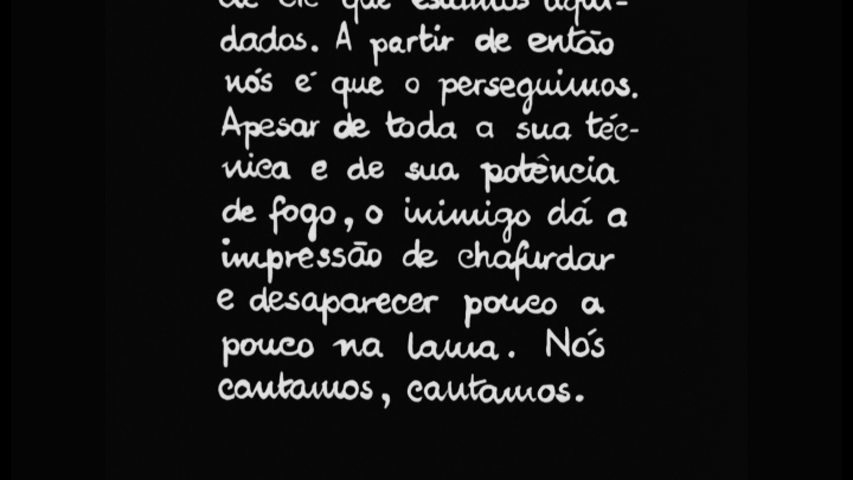
Foto: Pablo Bernardo
Ao espectador branco, como eu, resta essa atestação instantaneamente incômoda, mas logo de um conforto perverso, obsceno, que é imaginar que só no teatro, nesta noite, neste punhado de minutos, meu lugar automático de privilégio pode ser momentaneamente abalado. Lá fora, findo o espetáculo, não pensarei duas vezes antes de correr livremente para alcançar o ônibus que passa do ponto, e a sirene da polícia singrando a noite continuará sendo um eco razoavelmente distante na minha vida. Um privilégio, no entanto, nunca me pertencerá: o de sentir na pele, ao menos ali, no teatro, no olhar trocado com Preto Amparo, a esperança física de pertencer não aos restos degradados deste planeta caquético, mas à comunidade vital daqueles e daquelas que ainda podem sonhar com o dia em que caminharão triunfantes sobre as ruínas deste mundo e tomarão parte na iniciação de um novo.
Ficha técnica:
Atuação: Preto Amparo
Direção: Alexandre de Sena
Assessoria dramatúrgica: Aline Vila Real
Preparação corporal: Leandro Belilo/Cia Fusion de Danças Urbanas
Assessoria de trilha sonora: Barulhista
Iluminação: Preto Amparo
Ilustração: Cata Preta
Registro em foto e vídeo: Pablo Bernardo
Assessoria de imprensa: Alessandra Brito
Produção: Grazi Medrado















