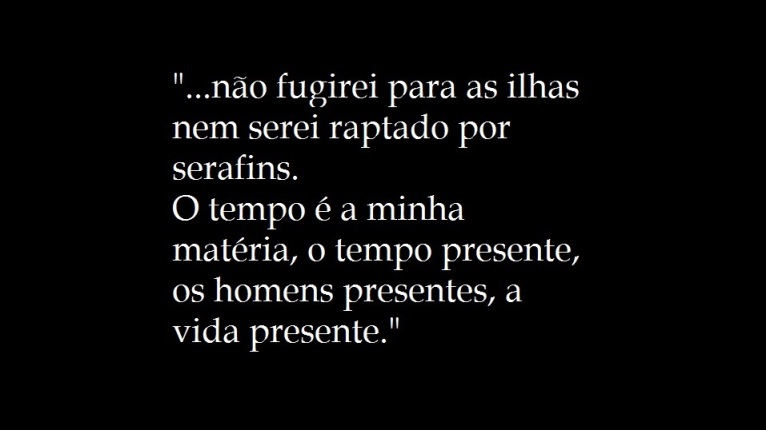Imagem da capa: Baldwin discursa para uma congregação em Nova Orleans, em 1963. Créditos: Steve Schapiro/Corbis, via Getty Images.
– por Guilherme Diniz-
A faceta teatral de James Baldwin (1924-1987) é, de um modo geral, pouco conhecida no Brasil. Sem dúvida, os seus ensaios, novelas, poemas e romances constituem a dimensão mais discutida da sua fecunda literatura. Também não são ignoradas as candentes entrevistas e as sedutoras fotografias de um ficcionista e militante que, no século XX, se converteu em um dos intérpretes mais radicais dos Estados Unidos. Até mesmo as suas ressonâncias cinematográficas (Meeting the man: James Baldwin in Paris, 1970, dir. Terence Dixon / Eu não sou seu negro, 2016, dir. Raoul Peck / Se a rua Beale falasse, 2018, dir. Barry Jenkins, para ficarmos com alguns exemplos de maior vigor) nos alcançam mais facilmente do que a dramaturgia por ele concebida. É verdade que, se eliminarmos as adaptações de sua prosa para o palco (além de alguns experimentos e rascunhos), o nosso autor possui apenas duas peças de teatro integralmente finalizadas e publicadas, The Amen Corner (1954) e Blues for Mr. Charlie (1964). Mas, quando se considera, em perspectiva ampliada, as suas reflexões teatrais, expressas em notas, cartas, observações e ensaios, vê-se que ele, com efeito, mergulhou no universo cênico, encarando-o como um agudo sintoma das devastadoras relações raciais na sociedade estadunidense. Além disso, na produção dramatúrgica de Baldwin estão presentes algumas das mais centrais discussões que lhe envolveram artística e politicamente, tais como as tensões culturais, históricas e sociais da religião – em especial as black churches – na vida da população afro-americana, bem como as complexas violências psicofísicas acopladas no processo de tornar-se negro neste mundo fraturado.
Susan Watson Turner (2014), em seu artigo Why theatre Mr. Baldwin?, relata que, ao longo de sua formação teatral, ela nunca foi instada a ler as obras dramáticas do autor de The Fire Next Time (1963), embora as suas peças visitem, com certa regularidade, alguns palcos internacionais. As evidências não tendem a desmentir a pesquisadora. Já neste século, grupos como o The Williams Project; o National Theatre; a Shakespeare Theatre Company; o Echo Theater Collective; o Elevator Repair Service; a Talawa Theatre Company e o New Wolsey Theatre (estas duas últimas em uma co-produção) encenaram, de uma forma ou de outra, James Baldwin.
Neste aspecto, o contexto brasileiro, ao contrário, submerge em um desolador marasmo. Muitos fatores estão envolvidos neste quadro. Antes de mais nada, é forçoso salientar que Baldwin dormitava, até pouco tempo, em um duro hiato editorial. As últimas edições de suas obras no Brasil datavam dos anos 80. Recentemente, a Companhia das Letras adquiriu os direitos autorais para reeditar em 2018, O Quarto de Giovanni e Terra estranha; em 2019, Se a rua Beale falasse; e em 2020, Notas de um filho nativo.
Com relação às manifestações de James Baldwin em nossos palcos, apenas posso afirmar que sua presença está longe de ser a mais assídua. A sua peça The Amen Corner recebeu, até onde é possível saber, uma solitária tradução brasileira, realizada pelo dramaturgo pernambucano Aldomar Conrado (1936-2018) e publicada em 1972 pela editora Lidador. Ignoro eventuais montagens desta dramaturgia. Blues for Mr. Charlie, por seu turno, montada em São Paulo no ano de 1966 pelo Grupo Teatral do Negro, foi traduzida pelo próprio diretor da encenação, Carlos Murtinho (1929-1990)[1]. Ao que tudo indica, não houve, neste caso, qualquer publicação do texto. Seguiram, depois disso, adaptações do romance O Quarto de Giovanni. Ainda no século passado projetam-se duas montagens homônimas, intituladas, Giovanni. A primeira, de 1986/1987, foi dirigida por Iacov Hillel (1949-2020). Caíque Ferreira (1954-1994) e Hugo Della Santa (1952-1988) encarnaram o casal homoafetivo, Davi e Giovanni. A segunda encenação, de 1996, foi dirigida por Rogério Fabiano, desta vez com Carmo Dalla Vechia e Edson Fieschi nos papeis centrais. Mais recentemente, em 2010, a Cia. Internacional de Teatro de Repertório Arte Livre dramatizou a sobredita obra, a partir de uma adaptação de Roberto Cordovani. Aqui estou me referindo, é obvio, a produções nas quais a textualidade de Baldwin se arvora como sustentáculo dramatúrgico e/ou cênico. Por exemplo, o espetáculo A missão em fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa (2017), criado pelo coletivo Legítima Defesa (SP), inclui pensamentos do autor em questão, mas não os tomam como a principal base dramatúrgico-espetacular.
Se as suas criações romanescas e ensaísticas – isto é, a parte mais celebrada de James Baldwin – ainda não circulam suficientemente entre nós, o que esperar de seus textos teatrais, carentes de traduções e, logo, de publicações atualizadas? O painel exposto acima, sem quaisquer pretensões (e condições) de ser definitivo ou sistemático, aponta para a baixíssima incidência do escritor afro-americano em nossas salas de espetáculo. Não obstante, em sua dramaturgia há imagens, ideias e indagações ainda vivas, ainda vibrantes não apenas quanto aos dilemas sociais de nosso tempo, mas também com relação aos debates estéticos no âmbito das cenas negras contemporâneas. É este o meu propósito neste ensaio – e esta é apenas a primeira parte – ou seja, discutir (para alguns quiçá introduzir) as intrigantes relações entre Baldwin e a arte teatral, enfatizando as feições éticas, composicionais e políticas de suas criações dramáticas.
Um pensador da cena
É sabido que as inclinações literárias de James Baldwin foram despertadas precocemente em sua vida, a despeito das inumeráveis complicações financeiras e familiares que o circundavam. Leitor voraz desde muito cedo, logo principiou a arriscar-se na escrita. Frequentador das bibliotecas públicas do Harlem, onde nasceu, passou a se apaixonar cada vez mais pelos livros, alimentando seu sonho de se tornar um célebre escritor e, ao mesmo tempo, convertendo-se em um observador mais arguto do seu meio social. O universo teatral também não tardou a cruzar o seu caminho. Em Notas de um filho nativo, ele relembra estes contatos iniciais:
“Aos nove ou dez anos de idade, escrevi uma peça que foi dirigida por uma jovem professora branca, que passou então a se interessar por mim, dando-me livros para ler e, reconhecendo meu gosto pelo teatro, decidiu me levar para assistir ao que ela denominava, com uma certa falta de tato, de “peças de verdade”. Em nossa casa, era proibido frequentar o teatro; eu, porém, com a intuição cruel das crianças, desconfiava que a cor da pele da professora garantiria minha vitória. Quando, na escola, ela se propôs a me levar ao teatro, não procurei tirar o corpo fora, como talvez tivesse feito se ela fosse negra, e aceitei sua ideia de vir me pegar em casa uma noite” (BALDWIN, 2020, p. 118).
Baldwin cresceu em um ambiente duramente religioso. O padrasto, David Baldwin, foi um fervoroso pregador que mantinha uma disciplina intransigente dentro de casa, impondo certo medo entre os enteados. Contudo, em meio às restrições, a Igreja Pentecostal foi também um mundo que possibilitou ao nosso autor um contato profundo com a performance extasiante de pastores negros, cujas oratórias fluentes, encantatórias e explosivas, marcaram parte de sua prosa e de suas inquietações como pensador. A sua peça teatral The Amen Corner bebe abundantemente desta fonte, isto é, as black churches, ambientes dotados de teor dramático, amplas gesticulações, musicalidade fremente e experiência comunal.
No livro The Devil Finds Work, Baldwin (1976) pormenoriza sua primeira vivência como espectador; vivência esta facilitada, como já dito, por uma professora branca, Orilla Wilfield, uma de suas maiores incentivadoras desde a tenra idade. No Lafayette Theater, o ávido menino foi intensamente arrebatado por uma singular montagem dirigida por Orson Welles (1915-1985). O elenco inteiramente negro daquela produção o fascinara:
“[…] pois a primeira vez que eu realmente vi atores negros trabalhando foi no palco: e é importante enfatizar que aquelas pessoas que eu estava assistindo eram negras, assim como eu. Nada do que eu vi antes me preparou para aquilo – o que é, com efeito, uma observação melancólica, mas eu não posso ser culpado pela ignorância que um país inteiro deliberadamente inculcou” (tradução minha).[2]
Ele está se referindo à estonteante encenação de Voodoo Macbeth, estreada em abril de 1936. A respeito desta peça algumas breves palavras são importantes para deduzirmos as possíveis as razões por detrás da sua empolgação.
Em sua adaptação, Welles transladou a ação dramática da Escócia para um cenário caribenho, similar ao Haiti no início do século XIX, estabelecendo, inclusive, paralelos simbólicos entre a trágica personagem-título e a fragosa trajetória do monarca autoproclamado Henri Christophe (1767-1820)[3], agente destacado no processo revolucionário da ilha. Importa-nos ressaltar, principalmente, o impacto causado pela linguagem cênica de uma montagem que não apenas reuniu um elenco monumental (cerca de 125 artistas cênicos negros e negras das mais diversas idades, entre veteranos e iniciantes), mas que também orquestrou poderosas sonoridades e musicalidades afro-orientadas. É dito que a produção contou com percussionistas oriundos de Serra Leoa, cujas participações foram centrais na estrutura rítmica e emocional deste negro Macbeth. As famosas weird sisters, ou seja, as três bruxas, foram substituídas por sacerdotisas do voodoo haitiano, estilizando, em cena, ritos e performances sagradas.
Ainda que tenha contratado numerosos profissionais e amadores negros, em um período socioeconomicamente difícil[4], e revelado nomes afro-americanos significativos, como os atores Edna Thomas (1885-1974) e Maurice Ellis (1905-2003), a montagem de Voodoo Macbeth, como é presumível, contém boas doses de contradições e ambivalências em sua concepção. Marguerite Rippy (2010) discute bem esses aspectos, tais como: reprodução de fetiches brancos e coloniais acerca do suposto primitivismo bárbaro e excitante do voodoo; caracterização do signo negro como essencialmente sobrenatural, místico, excessivo; etc.[5] Ainda assim, a produção se tornou um sucesso vigoroso, atraindo multidões quilométricas nas temporadas de estreia (algo em terno de 150 mil espectadores somente em Nova York) e também nas excursões pelos Estados Unidos.
Cena de Voodoo Macbeth. Créditos: Federal Theatre Project production of Macbeth in 1936. Courtesy Library of Congress
Agora imaginemos o que provavelmente significou para um pobre menino negro contemplar a um espetáculo desta natureza em uma época na qual a segregação racial, por intermédio das leis Jim Crow, ainda estava vigente. Este tão marcante acontecimento passa então a orientar o seu modo de encarar o palco. Na concepção de Baldwin (1976), o teatro é visto como propulsor de experiências nas quais as respostas e os impulsos corporais (suas emoções, pulsões e humores) têm espaço privilegiado. Somos afetados por corpos vivos; presenças encarnadas que, de algum modo, reverberam em nós, se conectam conosco, nos desestabilizam e, em última análise, nos constituem. Ele parece nos dizer que somos atravessados por veementes carnalidades capazes de nos fazer transitar entre o real e o fictício. Essa é uma das chaves do seu pensamento cênico:
“Pois a tensão no teatro é bem diferente e bastante particular: a tensão entre o real e o imaginado é o teatro e por isso ele será sempre uma necessidade. [No teatro] ninguém está na presença de sombras, mas reagindo a pessoas de carne e osso. Nós estamos nos recriando. […]No caso em questão, o termo “de carne e osso” não pretende se referir, simplesmente, ao espetáculo de um menino negro vendo, pela primeira vez em sua vida, atores negros vivos em um palco vivo: somos todos a carne e o sangue um do outro.” (tradução minha)[6].
No teatro, esta situação criada entre pessoas, esse vívido encontro entre carnes e ossos, segundo Baldwin (1976), nos transporta para lugares inimagináveis, estabelecendo uma misteriosa ambiência que nos suspende em sua ardente fugacidade:
“Ninguém consegue adivinhar o que está prestes a acontecer: está acontecendo, a cada vez, pela primeira vez, pela única vez. Por este motivo, embora eu não soubesse disso, eu nunca estive, nas salas de cinema, atento à plateia: no cinema, nós sabíamos o que iria acontecer e, se quiséssemos, poderíamos ficar lá a tarde toda, vendo a coisa acontecer repetidas vezes” (tradução minha)[7].
Ao relembrar, uma vez mais, o arrebatamento causado por Voodoo Macbeth, James Baldwin explicita, segundo sua ótica, outra potencialidade das artes teatrais: a possibilidade que elas têm de reconfigurar nossos olhares, isto é, nossas formas de ver a realidade, fazendo-nos ampliar nossos meios de lidar e ressignificar o cotidiano. A partir desse estímulo tão vigoroso nas nossas dimensões imaginativas e fabulares, seria possível construir outros vínculos com o mundo. Na sua experiência, as interrelações entre teatro e vida se intensificaram de tal sorte que um foi radicalmente entrecortado pelo outro. O palco como um portal para ler e mergulhar na existência. Esse processo, como nos sugere Baldwin (1976), é fundamentalmente visceral; demanda, convida, instiga e desafia o corpo, mas um corpo efetivamente implicado naquilo que ocorre em cena.
[…] Macbeth ao mesmo tempo me aterrorizou e me alegrou. Eu sabia o bastante para compreender que a atriz (a senhora negra!) que representou Lady Macbeth poderia muito bem ser, quando a peça acabava ou quando as cortinas se fechavam, uma zeladora ou a esposa de um zelador. Macbeth era um negro, assim como eu, e eu vi as bruxas na igreja todo domingo e as vi em todo lugar no quarteirão por uma semana, e o rosto do Banquo era familiar. Ao mesmo tempo, a majestade e o tormento no palco eram reais: de fato eles desvendaram a peça Macbeth. Eles eram aquelas pessoas e aquele tormento era um tormento que eu reconhecia, aquelas adagas eram reais, o sangue era real, e aqueles crimes reverberaram e se agravaram como acontece com crimes reais. […]. Não foi por acaso o fato de eu ter fabulado o enredo de uma peça na minha cabeça e ter passado a olhar a todos ao meu redor com um novo fascínio (e com um novo pavor). […] Pois eles estavam sendo eles mesmos, estes atores – estas pessoas estavam sendo elas mesmas. Eles conseguiram ser Macbeth somente porque eles foram eles mesmos: esta foi a primeira vez que eu me dei conta do desafio imposto à nossa mortalidade. Aqui, nada confortou as minhas fantasias: carne e osso estavam sendo desafiados por carne e osso (tradução minha)[8].
Koritha Mitchel (2012) chega a considerar Baldwin como um teórico da performance em virtude da força e da extensão de suas reflexões. A pesquisadora destaca um aspecto relevante no pensamento dele: o seu grande interesse pelo poder criativo e crítico das atrizes e dos atores negros. Para ele, tais artistas cênicos tinham a possibilidade de não apenas implodirem as fantasias e as ideologias fundadoras dos Estados Unidos (incluindo é óbvio seu núcleo racista), mas também poderiam corporificar, poeticamente, relações e imagens baseadas não nas gramáticas da desumanização[9]. É contagiante ler o fascínio de Baldwin (1976) ao assistir o desempenho do admirável Canada Lee[10] (1907-1952) na peça Native Son:
[…] eu me lembro de me levantar abrupta e imprudentemente quando a peça terminou, e eu cheguei quase a cair de cabeça do mezanino até o chão. Eu não sabia que tinha sido atingido tão em cheio: eu não esquecerei a performance de Canada Lee enquanto eu estiver vivo. Canada Lee foi Bigger Thomas, mas ele também foi Canada Lee: a sua presença física, assim como a presença física de Paul Robeson me deu o direito de viver (tradução minha)[11].
Eu compreendo James Baldwin. Esta é mais ou menos a mesma sensação que já tive ao assistir, por exemplo, Grace Passô, Hilton Cobra, Rejane Faria, Preto Amparo ou Dalma Régia: um magnetismo vibrátil manifesto ora em uma suavidade que me suspendia, ora em uma palpitação quase vulcânica a transbordar como ondas por todo o meu corpo, tamanho impacto provocado pela presença cênica destas e destes artistas negros. Ainda me lembro dos arrepios extáticos diante da ressonância de Juçara Marçal, em Gota D’Água {PRETA}. Minha imaginação estava sendo convocada a redimensionar os sentidos do próprio teatro e a rever o mundo a partir daqueles corpos. É também neste lugar que se encontra, segundo Mitchell (2012) a centralidade dos artistas cênicos negros na visão de Baldwin, ou seja, instaurar situações desestabilizantes, inquietantes entre a plateia e o palco, mobilizando nossas forças imaginativas. Esse processo não passa apenas por vias racionais ou decodificadoras, mas fortemente por meio dos corpos energizados.
As suas reflexões não param por aí…
No incisivo artigo, Theatre: the negro in and out [Teatro: o negro dentro e fora, em tradução livre], James Baldwin (1966) expressa panoramicamente a sua perspectiva a respeito dos dilemas artísticos e éticos do teatro estadunidense na segunda metade do século passado. Escrito em 1961 e republicado cinco anos depois na icônica Negro Digest[12], o texto conjuga a sofisticada ironia do autor e uma crítica aos abismos socio-raciais presentes nos palcos daquela sociedade.
Uma de suas principais reflexões está condensada na seguinte passagem:
“No momento, a figura do negro está de fato no coração da confusão americana. Muito dessa confusão americana, para não dizer a sua maior parte, é resultado direto do esforço americano em evitar encarar o negro como um homem. O teatro não consegue deixar de refletir esta confusão, com resultados insalubres para o ator branco e desastrosos para o negro” (tradução minha)[13].
É a partir deste argumento algo fanoniano (“[…] o negro não é um homem”, disse o intelectual martinicano) que Baldwin (1966) construirá sua observação maior. Em síntese, o teatro do seu país (ele se refere tanto às teatralidades da Broadway, quanto à grande parte das produções do circuito off-Broadway) funcionava como um prolongamento do processo de desumanização da pessoa negra. Ao esquivar-se de lidar com a humanidade (logo, a complexidade) do signo negro, o palco estadunidense agudizava uma iníqua estrutura social que encontrava (e ainda encontra) na racialização um dos seus operadores mais fortes. Este é um relevante ponto da visão teatral de Baldwin: a vida pública e a cena não são encaradas separadamente; ao contrário, são vistas como partes de um sistema sociocultural.
Nestas circunstâncias, o mundo americano só poderia produzir, ideologicamente, um teatro mistificador, uma máquina geradora de débeis e ocas fantasias. O ator branco encarnava sobretudo projeções idealizadas de si mesmo. Projeções estas alimentadas por um Estado em que não apenas a superioridade, mas a supremacia branca são a base. O ator negro, via de regra subestimado, enfrentava, por sua vez, situação realmente, limitadora, pois independentemente de seu treinamento ou bagagem, ele não conseguia o papel desejado, mas aquele permitido de acordo com o dominante imaginário branco (BALDWIN, 1966). Diante desse quadro lamentável, James Baldwin almejava um teatro disposto não a nos encapsular em fantasias insignificantes, mas a penetrar no movimento e nas contradições da vida em toda a sua pujança:
“A questão … é que o teatro está perecendo pela falta de vitalidade. Vitalidade, humana e artisticamente falando, só tem uma fonte, e essa fonte é a vida. Agora, a vida como ela realmente é neste continente não é a vida idealizada [fingida ou simulada são correspondências possíveis] por nós. Os brancos não são o que eles imaginam e os negros são muito diferentes – para dizer o mínimo – de sua imagem popularizada. Esta imagem deverá ser rachada não apenas para conquistarmos um teatro – (pois no momento não temos verdadeiramente um teatro, apenas uma série de especulações comerciais que resultam em gigantescos musicais e em peças “ousadas” como Compulsion e Inherit the Wind, que são tão ousadas quanto um gato castrado – essa imagem deve ser rachada se quisermos sobreviver como uma nação” (tradução minha)[14].
Há, em distintos momentos deste escrito, investidas contra teatralidades vistas como mentirosas, inverídicas, falsas e vazias, como se houvesse a exigência de um realismo mais crível. Mas, com efeito, o que Baldwin aspira é um outro universo de criação teatral capaz de nos mover, de nos engajar e de nos espantar; isto é, uma poética que destroçasse a letargia cômoda e anestesiante do status quo, cujos efeitos impediam artistas e públicos de acessarem zonas e profundidades mais desafiadoras do ponto de vista estético e social. Um palco acovardado e atolado em convenções fingidas não corria o risco necessário para mergulhar nos espinhos, nos nervos, nas pulsões mais difíceis do seu tempo. Por isso, creio, Baldwin afirmou que se afigurava indispensável quebrar as imagens fantasmagóricas (clichês, estereótipos, essencializações etc) do branco e do negro, isto é, uma das questões mais pungentes da sociedade norte-americana. Sem enfrentar a fundo este dilema, como pensar densamente a nação? Como criar verdadeiramente um teatro conectado com a vida do país?
É fundamental também não perdermos de vista o contexto histórico. O artigo foi produzido nos anos 60, isto é, em um dos momentos mais intensamente decisivos das lutas pelos direitos civis. É destacável o surgimento, naquela década, de proeminentes grupos teatrais, tais como o New Lafayette Theatre e o Black Arts Repertory. Também em 1966 – mesmo ano da republicação deste texto de Baldwin – o dramaturgo Douglas Turner Ward (1930-2021)[15] escreveu o seu seminal artigo American theatre: for whites only? [Teatro americano: apenas para brancos?, em tradução livre), questionando acidamente os diversos mecanismos de marginalização racial perpetrados pelo sistema teatral dos Estados Unidos. Um ano depois, Ward fundou a Negro Ensemble Company, ao lado de Robert Hooks (1937-) e Gerald S. Krone (1933- 2020). Ao mirar toda a conjuntura da época, Leda Martins (1995) resume:
“O Teatro Negro, assim como a literatura e as artes em geral, vincula-se, ostensivamente, ao movimento nacional pelos direitos civis, com um caráter de contestação e demanda, cujos limites transcendem o que, até então, havia sido realizado pelo teatro mais tradicional” (p. 72-73).
Se desde o século XIX este “teatro mais tradicional” já vinha sendo, em maior ou em menor grau, desafiado por artistas e companhias afro-americanos, a partir de meados dos anos 50 a contenda alcançou o seu ápice. É neste contexto mais amplo que devemos situar este artigo de Baldwin. O teatro estava fortemente em disputa.
Um encenador em trânsito
Em suas pesquisas, o professor Douglas Field (2015), infatigável estudioso da obra de Baldwin, discute um aspecto fundamental na vida deste escritor, a saber, as suas inumeráveis errâncias pelo mundo. O célebre autor foi um viajante inveterado que, ao longo do tempo, desde a mocidade até os anos finais, cruzou distintas fronteiras na Europa, na África e no Médio Oriente. França, Suíça, Espanha, Senegal e Quênia foram alguns dos territórios onde ele ora estabeleceu residências mais prolongadas, como em Paris por exemplo, ora visitou brevemente.
Field (2015) nos lembra que o próprio Baldwin chegou a se ver como um “transatlantic commuter”, isto é, um viandante ou passageiro transatlântico, tamanha importância das viagens em sua trajetória. Estas tantas travessias geográficas afetaram sobremaneira a sua escrita e o seu pensamento geopolítico. Em diferentes obras, tanto as ficcionais, quanto as ensaísticas, Baldwin debateu noções de nacionalidade, identidade e pertencimento, sublinhando imagens e/ou situações em que o exílio e/ou o não-lugar (estas também foram condições que o atravessaram) se projetaram como questões a estremecer dicotomias. Em muitas ocasiões ele pôs em xeque a imagem oficial de uma América branca, masculina e heterossexual. Muitos dos seus escritos (incluindo alguns teatrais) foram concebidos nessas idas e vindas entre nações. Politicamente, o autor aos poucos afiou suas lentes para analisar as violências do imperialismo estadunidense e os movimentos de libertação nacional no continente africano, captando também as agruras da realidade diaspórica sem romantizações.
Negro, gay, americano, cidadão do mundo, outsider e exilado, Baldwin desdenhou dos limites impostos e recusou veementemente rótulos em suas obras (romances, contos, dramas, ensaios, roteiros cinematográficos, etc…). Limites geográficos, culturais e identitários foram sempre problematizados por ele. Estou enfatizando esse ponto, pois uma de suas mais emblemáticas experiências teatrais ocorreu fora de seu país, mais precisamente na Turquia[16], entre 1969 e 1970, ao dirigir a ruidosa peça Fortune and men’s eyes, do canadense John Herbert (1926-2001).
Mas o que exatamente Baldwin encontrou no supracitado texto teatral? Por que aceitou o convite para encená-lo? Passemos, pois, a uma esquemática contextualização.
* * *
Estreada em 1967, na Actor’s Playhouse, no âmago do circuito off-Broadway, Fortune and men’s eyes examina fundamentalmente os papeis de gênero impostos no processo de socialização (especialmente de homens cis) em um mundo patriarcal e heteronormativo. As relações entre gênero, sexualidade e poder social estão tensamente presentes nos contornos de uma dramaturgia que encara as identidades e os afetos desviantes, não-normativos, como possibilidades de reimaginar os laços entre as pessoas, questionando, neste processo, tabus históricos.
Em resumo, a ação se passa em um reformatório para onde são enviados jovens acusados de atentar contra a ordem, a moral e os costumes tradicionais. Mas, no fundo, trata-se de uma espacialidade projetada para isolar os corpos tidos como anômalos e/ou disfuncionais. Acompanhamos principalmente a saga de Smitty, um rapaz de 17 anos, a princípio angelical e amedrontado, atlético e sensível, que condensa em si as típicas características de um “bom menino”. O protagonista divide cela com Rocky, o macho-alfa dominador; além de Queenie e Mona, personagens não-binárias, visualmente afeminadas, segundo as rubricas do texto. A primeira figura, dona de um porte físico avantajado, é a nota mais ácida e subversiva, pois estrategicamente aprendeu a sobreviver naquele contexto inóspito a partir de recursos eticamente duvidosos. A andrógina Mona é, por sua vez, mais delicada e graciosa, guardando, dentro de si, sonhos e amores, mesmo tendo já sofrido um sem-número de abusos em sua vida. Há ainda um guarda de meia idade bastante agressivo, que não esconde, entretanto, suas próprias decepções.
Em dois atos bastante densos, observamos as diferentes formas de violência sexual e de gênero incrustradas no ambiente prisional, tais como os estupros corretivos, as ameaças físicas e psicológicas, as intimidações, etc. Ao mesmo tempo, são revelados os acordos e as leis que os/as detentos/as desenvolveram para organizar e hierarquizar a vida no cárcere. Nesta conjuntura tão devastadora, as personagens lidam (ou tentam lidar) com seus desejos, fantasias e afetos que escapam à heteronorma. A progressão dramática de Smitty é a mais acidentada, pois ele absorve os códigos e os comportamentos patriarcais, passando de uma certa candura para a brutalidade homofóbica, bem de acordo com os mandamentos já postos socialmente. O reformatório é este microcosmo, o mundo em menor escala, uma truculenta panela de pressão na qual as opressões históricas estão sempre a sufocar outras possibilidades de vida não-binárias, não-heteronormativas, não pautadas pelas noções dominantes de masculinidade, etc.
No percurso do teatro canadense moderno, sobretudo aquele produzido a partir dos anos 60, John Herbert, ao lado de autores como Michel Tremblay (1942-), se constituiu como um dos principais nomes de uma linha dramatúrgica interessada em discutir as complexidades homoafetivas, as masculinidades e as violências de gênero. Estas realizações ajudaram a sulcar caminhos mais tarde percorridos por Don Hannah (1951-), Sky Gilbert (1952-), Brad Fraser (1959-), entre outros que investigaram as relações estre sexualidades, gênero e poder.
Circundado, no Canadá, por uma realidade teatral conservadora e desejosa de imitar as produções da Broadway ou do West End, o texto de Fortune and men’s eyes só ganhou uma montagem profissional, em seu próprio país de origem, em meados dos anos 70, após encenações estrondosas em outras partes do mundo, como em Londres e em Paris, traduções para distintas línguas e uma versão fílmica (DICKINSON, 2002; WASSERMAN, 1993). Além de John Herbert ter enfrentado um sistema cultural averso à própria dramaturgia canadense, outro fator foi crucial para dificultar a realização cênica desta dramaturgia: a legislação daquele país criminalizou até 1969 a homossexualidade. Em alguma medida, Herbert representou, para o Canadá, o que Plínio Marcos (1935-1999) representou para o Brasil. Ambos os dramaturgos trabalharam recorrentemente com universos marginalizados, do ponto de vista sexual, afetivo e sociocultural.[17]
* * *
Por tudo o que foi exposto acima, já é possível entrever pontos de contato entre as discussões presentes na peça e algumas das mais significativas perquirições de Baldwin, tais como as noções de masculinidade, as tensões entre sexualidade e política, as questões de gênero, a homofobia em suas diversas acepções e, por fim, a necessidade de se construir formas de afeto não capturadas por estruturas históricas de extermínio. Estas problemáticas, de um modo geral, estão entre as mais significativas na trajetória do nosso autor. Por exemplo: no seu sagaz artigo, Preservation of Innocence, publicado inicialmente em um periódico francês no ano de 1949 (duas décadas antes da sua experiência como diretor na Turquia), Baldwin não apenas abordou criticamente as conexões entre a homofobia, em sua dimensão ideológica, e o nacionalismo moralista e heteronormativo dos Estados Unidos, como também refutou rótulos identitários, vistos como engessados e essencialistas: “ninguém é unidimensional”, ele argumentou. O antológico romance O quarto de Giovanni, de 1956, condensa essas e outras reflexões em seus contornos literários.
James Baldwin na Turquia em 1965. Créditos: Collection of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture; Fotógrafo: Sedat Pakay
Na brilhante obra, James Baldwin’s Turkish Decade: Erotics of Exile, Magdalena Zaborowska (2009) analisa, detalhada e inteligentemente, a intermitente estadia de Baldwin na Turquia, salientando as vivências culturais, as relações construídas e os projetos por ele realizados (ou desejados). No caso de sua experiência como encenador, vale a pena frisar quatro pontos:
- Ao aceitar dirigir Fortune and men’s eyes para a Gülriz Sururi-Engin Cezzar Ensemble, o nosso autor-encenador selava mais uma parceria com criadores vanguardistas e politicamente engajados, enfrentando conservadorismos enraizados na sociedade turca.
- O sucesso da encenação atraiu reações bastante distintas: ora ataques de setores reacionários, ora apoios entusiasmados de setores mais progressistas. De acordo com as informações e os testemunhos coletados por Zaborowska (2009), a peça contou com o amparo de artistas transgêneros e de drag queens que, unidos e unidas, contestaram as tentativas de censurar a peça. Apesar desses percalços, o espetáculo ganhou uma expressiva turnê nacional, trazendo à baila debates, imagens e interrogações sistematicamente invisibilizados pela Turquia daquela época.
- Os relatos nos dão a ver que Baldwin foi, a um só tempo, rigoroso e afável na condução do processo criativo. É dito que ele cobrava repetidas e rigorosas leituras do texto para, após isso, propor improvisações livres. A sua capacidade de acolher e respeitar as dificuldades do elenco se destaca entre os depoimentos. Além disso, ele participou ativamente da concepção da luz, da cenografia e das partes musicais da peça, demonstrando, segundo a equipe, um notável conhecimento teatral.
- Por último, em uma de suas declarações a respeito da montagem, Baldwin afirmou que “a ação da peça é realmente, no fundo, o esforço de nossas vítimas para se tornarem mais do que números estampados em suas carteiras de identidade ou em seus corpos” (tradução minha)[18]. Foi a partir deste entendimento que o trabalho cênico se deu, isto é, enfatizando as multifaces de cada personagem na relação com o mundo e consigo mesmo.
O teatro (mais uma vez)
Eu poderia encerrar este texto dizendo que, apesar de ter produzido textos dramáticos e teóricos, Baldwin não via com bons olhos o teatro estadunidense do seu tempo, especialmente quando ele considerava tanto a mentalidade mercenária e repetitiva das produções comerciais mais ligadas ao circuito da Broadway, quanto o racismo cravado no meio artístico que, habitualmente, excluía, subestimava e ridicularizava poéticas e corpos negros.
A despeito do perceptível descontentamento com o panorama cênico, James Baldwin não ocultava o seu fascínio sempre que era profundamente tocado por aquilo que se passava sobre o palco. No curtíssimo ensaio, intitulado Sweet Lorraine, (escrito originalmente em 1969) ele não somente declara todo o seu amor fraternal pela dramaturga Lorraine Hansberry (1930-1965), mas também reflete sobre o impacto causado pela peça desta sua grande amiga, a saber, A Raising in the Sun:
“O que é relevante aqui é que eu nunca vi, em minha vida, tantas pessoas negras no teatro. E a razão é que nunca antes, em toda a história do teatro americano, tanta verdade foi vista a respeito de vidas negras sobre o palco. As pessoas negras ignoravam o teatro porque o teatro sempre as ignorou” (tradução minha)[19].
Outro aspecto chamou a atenção de Baldwin: a interação vívida, sincera e afetuosa entre o público negro e a autora, também negra. Ele parece nos chamar a atenção para o fato de que não é suficiente (embora seja salutar) mudar os corpos em cena, é preciso também alterar os corpos que olham. Quais outros vínculos ou outras comunidades – ainda que temporárias – podem surgir destes encontros, destas presenças compartilhadas?
“Eu observei as pessoas amando Lorraine por aquilo que ela lhes tinha dado; e observei Lorraine amando as pessoas por aquilo que elas lhe tinham dado. Para ela não era uma questão de ser admirada. Ela estava sendo fortalecida e reconhecida. […] as pessoas negras amontoadas em torno de Lorraine, independentemente se elas a viam como uma artista ou não, a consideravam uma testemunha [de suas vidas]. Os conceitos de arte e de artista, neste país, têm o poder, nem vale a pena entrar em detalhes agora, de isolar os artistas do povo. Qualquer um pode conferir o resultado disso no irrelevante trabalho produzido por celebrados artistas brancos; mas o resultado desse isolamento para um artista negro é absolutamente fatal. […] Para continuar a crescer, para permanecer em contato consigo mesmo, ele [o artista negro] precisa do apoio daquela comunidade, que, entretanto, as pressões da vida americana conspiram para afastar afastar dele. E quando ele é efetivamente afastado, ele se cala – e o povo perde mais uma esperança” (tradução minha)[20].
Não desejo simplificar o complexo pensamento de Baldwin, mas depois de tudo que foi visto até aqui, me parece possível dizer que o teatro almejado (e realizado) por ele era um espaço radical de experimentação (e liberdade) artística, de desafiante reflexão social e, fundamentalmente, uma possibilidade de atravessar experiências afetivas, transformadoras.
Veremos, nos próximos ensaios, como todas essas questões se desdobram em sua dramaturgia propriamente dita.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AZEVEDO, José Fernando Peixoto de. Eu, um crioulo. São Paulo: n-1 edições, 2018.
BALDWIN, James. Notas de um filho nativo. Tradução: Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
BALDWIN, James. The Devil Finds Work. New York: The Dial Press, 1976.
BALDWIN, James. Theatre: the negro in and out. Negro Digest, Chicago, vol. XV, nº 6, April 1966, p. 37-44.
BALDWIN, James. Sweet Lorraine. In: BALDWIN, James. Collected essays. New York: The Library of America, 1998, p. 757-761.
DICKINSON, Peter. Critically Queenie: The lessons of Fortune and Men’s eyes. Canadian Journal of Film Studies. Vol 11, nº 2, Fall 2002, p. 19-43.
FIELD, Douglas. All those strangers: the art and the lives of James Baldwin. New York: Oxford University Press, 2015.
HILL, Anthony D.; BARNET, Douglas Q. Historical dictionary of African American theater. Lanhan: Scarecrow Press, 2009.
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995.
MITCHELL, Koritha. James Baldwin, Performance Theorist, Sings the “Blues for Mister Charlie”. American Quarterly, Baltimore, vol. 64, nº. 1, March 2012, p. 33-60.
MOLINARI, Cesare. História do Teatro. Lisboa: Edições 70, 2010.
RIPPY, Marguerite. Black Cast Conjures White Genius: Unraveling the Mystique of Orson Welles’s “Voodoo” Macbeth. In: NEWSTOCK, Scott L; THOMPSON, Ayanna. Weyward Macbeth: Intersections of Race and Performance. New York: Palgrave Macmillan, 2010, p. 83-90.
TURNER, Watson Susan. Why theatre Mr. Baldwin? In: HANDERSON, Scott A; THOMAS, P.L (eds.). James Baldwin: Challenging authors. Rotterdam: Sense Publishers, 2014, p. 29-39.
WASSERMAN, Jerry. Introduction. In: WASSERMAN, Jerry (ed.). Modern Canadian Plays – volume 1. Vancouver: Talonbooks, 1993.
ZABOROWSKA, Magdalena J. James Baldwin’s Turkish Decade: Erotics of Exile. Durham; London: Duke University Press, 2009.
[1] Esta informação nos é dada pelo jornal A Tribuna (SP) na edição do dia 14 de agosto de 1966.
[2] […] because the first time I ever really saw black actors at work was on the stage: and it is importante to emphasize that the people I was watching were black, like me. Nothing that I had seen before prepared me for this – which is a melancholy comment indeed, but I cannot be blamed for an ignorance which an entire republic had deliberately inculcated (BALDWIN, 1976, p. 29).
[3] Orson Welles buscou, em sua encenação, analogias entre Macbeth e Henri Christophe. O único rei do Haiti reúne em sua biografia qualidades que o aproximam da personagem shakespeariana: são homens virtuosos, exímios guerreiros com alto potencial de liderança, porém ambos tropeçam em suas próprias sombras, alimentadas pelo jogo do poder político. O general negro foi um dos principais agentes a conduzir a revolução haitiana depois da prisão de Toussaint Louverture (1743-1803). Uma vez independente, e após amargar uma guerra civil, o Haiti foi divido em duas grandes porções; a do sul, comandada por Alexandre Pétion (1770-1818), e a do norte, regida por Henri Christophe que, em 1811, se autoproclamou rei de Cap-Haitïen. O seu reinado, alavancado por avanços econômicos, educacionais e industriais, foi também marcado por um autoritarismo crescente. Ele instituiu horas de trabalho obrigatório e concentrou enorme poder sobre si, exigindo a construção de faraônicas obras, entre as quais destacam-se o Palácio de Sans Souci, morada real, e a Cidadela de Laferrière. Gradualmente, o soberano perdeu apoio popular e, abandonado por grande parte do seu exército, matou-se na solidão do seu poder. Macbeth e Christophe foram seduzidos e traídos por suas próprias ambições desmedidas? Foram apunhalados por suas megalomanias? A queda política e ética de duas pessoas, outrora valorosas, é o ponto central que os une. Alguns críticos associaram Voodoo Macbeth a outro monarca negro igualmente autoproclamado, o despótico Brutus Jones, de Eugene O’Neill que, diga-se de passagem, também ambientou a sua peça em uma fictícia ilha antilhana.
[4] Todo o projeto de Voodoo Macbeth foi concebido no âmbito do Federal Theatre Project. Esta iniciativa estatal, desenvolvida durante a chamada Grande Depressão –uma das agudas crises do capitalismo após a quebra da bolsa de valores em 1929 – visou estimular e subsidiar a produção teatral tão fragilizada pelo período de instabilidades. Cesare Molinari (2010, p. 401-402) resume bem o que foi este projeto: “[…] o Federal Theatre não nasceu por razões de ordem cultural ou estética, antes por razões de ordem puramente econômica e social. Era a expressão, no domínio dos profissionais do espetáculo, do New Deal rooseveltiano, e da confiança keynesiana na iniciativa pública como instrumento para pôr de novo em movimento os mecanismos enguiçados do sistema econômico. Em poucas palavras, o Federal Theatre foi criado para dar trabalho aos atores desempregados. Mas talvez nunca um teatro público se tenha relevado um tão laborioso centro de experimentação e investigação.” Voodoo Macbeth foi financiado e gestado pelo Negro Theatre Project (também chamado de Negro Theatre Unit), um dos setores do Federal Theatre Project, especialmente voltado para o subsídio de criações e criadores afro-americanos.
[5] Voodoo Macbeth não foi, definitivamente, uma unanimidade. Ao lado de sua popularidade, a montagem angariou ataques de intelectuais brancos e de intelectuais negros; os primeiros, inconformados com a vulgaridade de uma encenação distante do formalismo elisabetano, os segundos, incapazes de aceitar as estereotipias primitivistas fixadas nas personagens negras. Para uma parcela da comunidade negro-estadunidense, Orson Welles não passava de um oportunista, aproveitador de tantos talentos negros para se autopromover. Os críticos teatrais mais entusiasmados acreditavam que estavam diante de um “autêntico” ou “fidedigno” voodoo haitiano, expressando, em seus textos, o fetiche exotificante. Este aspecto foi largamente explorado pelo encenador, principalmente se considerarmos que a própria tragédia shakespeariana justapõe, em sua atmosfera lúgubre, tensões psicológicas e sobrenaturais. O universo de Macbeth é também místico. Paralelamente ao conflito político, há uma batalha mental e mágica. A plateia shakesperiana (e até mesmo o rei James I) estava de algum modo familiarizada com a demonologia e todos os seus imaginários bestiais, ocultos, etc. Estes elementos foram hiperdimensionados por Welles ao situar Macbeth no interior de uma profusa floresta haitiana, repleta de mistérios e segredos.
[6] For the tension in the theater is a very different, and very particular tension: this tension between the real and the imagined is the theater, and this is why the theater will always remain a necessity. One is not in the presence of shadowsl but responding to one’s flesh and blood: in the theater we are re-creating each other. […] Nor, in the present instance, is the term, “one’s flesh and blood” meant to refer, merely, to the spectacle of a black boy seeing for the first time in his life, living black actors on a living stage: we are all each other’s flesh and blood BALDWIN, 1976, p. 30, grifo do autor).
[7] No one can possibly know what is about to happen: it is happening, each time, for the first time, for the only time. For this reason, although I did not know this, I had never before, in the movies, been aware of the audience: in the movies, we knew what was going to happen, and, if we wanted to, we could stay there all afternoon, seeing it happen over and over again. (BALDWIN, 1976, p. 31).
[8] […] Macbeth had both terrified and exhilarated me. I knew enough to know that the actress (the colored lady!) who played Lady Macbeth might very well be a janitor, or a janitor’s wife, when the play closed, or when the curtain came down. Macbeth was a nigger [sic], just like me, and I saw the witches in church, every Sunday, and all up and down the block, all week long, and Banquo’s face was a familiar face. At the same time, the majesty and torment on that stage were real: indeed they revealed the play, Macbeth. They were those people and that torment was a torment I recognized, those were real daggers, it was real blood, and those crimes resounded and compounded, as real crimes do. […] It is not accidental that I was carrying around the plot of a play in my head, and looking, with a new wornder (and a new terror) at everyone around me […] For, they were themselves, these actors – these people were themselves. They could be Macbeth only because they were themselves: my first real apprehension of the mortal challenge. Here, nothing corroborated any of my fantasies: flesh and blood was being challenged by flesh and blood (BALDWIN, 1976, p.33-34, grifo do autor).
[9] Esse ponto dialoga, de alguma forma, com o pensamento de José Fernando Peixoto de Azevedo (2018) ao dizer que “O Negro, antes aquele ser-capturado-pelos-outros (Mbembe), é agora o sujeito da cena” (p.6); “[…] O corpo de um ator preto é tema, é testemunho, é forma, é palco, é cena” (p.11); ou ainda “[…] se a branquitude é um dispositivo que a tudo apreende; então o preto enquanto corporalidade e lógica de ação deve revelar seu valor de uso, de contradispositivo” (p.11-12).
[10] De acordo com o Historical Dictionary of African American Theater, Canada Lee foi um ator afro-americano cuja breve carreira foi expressiva no teatro e no cinema especialmente entre os anos 30 e 40 do século passado. O artista, nascido e criado no Harlem, se lançou no meio profissional ao interpretar Banquo, na montagem de Voodoo Macbeth. Nos palcos, dois dos seus maiores sucessos se deram com as peças Native Son e Anna Lucasta, estreadas na Broadway em 1941 e 1944 respectivamente. Além das enormes dificuldades enfrentadas por ser um artista negro sob a égide das leis lei Jim Crow, Lee foi excluído da indústria do entretenimento devido ao seu suposto envolvimento com o comunismo. O ator negou ser militante comunista, mas nunca deixou de criticar as mazelas históricas do seu país, como a segregação racial.
[11] […] and I remember standing up, abruptly and unwisely, when the play ended, and nearly falling headlong from the balcony to the pit. I did not know that I had been hit so hard: I will not forget Canada Lee’s performance as long as I live. Canada Lee was Bigger Thomas, but he was also Canada Lee: his physical presence, like the physical presence of Paul Robeson, gave me the right to live (BALDWIN, 1976, p.33).
[12] Em linhas gerais a revista Negro Digest (a partir de 1971 passou a se chamar Negro World) foi fundada em 1942 por John H. Jhonson (1918-2005), propondo-se a difundir o pensamento político e cultural da intelectualidade negra dos Estados Unidos, porém em diálogo com os movimentos anticoloniais em África. Durante os anos aguerridos da luta por direitos civis, a revista se tornou uma das vozes mais combativas. Larry Neal (1937-1981), Langston Hughes (1901-1967) e W..E.B. Du Bois (1868-1963) foram alguns expressivos colaboradores do periódico que perdurou até 1976.
[13] Now the figure of the Negro is at the very heart of the American confusion. Much of the American confusion, if not most of it, is a direct result of the American effort to avoid dealing with the Negro as a man. The theatre cannot fail to reflect this confusion, with results which are unhealthy for the white actor, and disastrous for the Negro (BALDWIN, 1966, p. 38).
[14] The point… is that the theatre is perishing for the lack of vitality. Vitality, humanly and artistically speaking, has only one source, and that source is life. Now, the life actually being led on this continent is not the life which we pretend it is. White men are not what they take themselves to be, and Negroes are very different – to say the very least – from the popular image of them. This image must be cracked, not only if we are to achieve a theatre – for we do not really have a theatre now, only a series of commercial speculations which result in mammoth musicals, and “daring” plays like Compulsion and Inherit in the Wind, which are about as daring as a spayed tomcat – this image must be cracked if we intend to survive as a nation (BALDWIN, 1966, p.41).
[15] Escrevi, para a revista literária Cupim (BH), um longo ensaio sobre a dramaturgia de Douglas Turner Ward. O texto pode ser acessado pelo link: https://www.revistacupim.com.br/post/a-gargalhada-acre-de-douglas-turner-ward
[16] James Baldwin estabeleceu residência na Turquia entre 1961 e 1971, embora tenha entrado e saído do país no decorrer destes 10 anos. Nesse período, várias obras foram iniciadas ou totalmente concebidas, como os romances Another Country (1962) e Tell me How long the train’s been gone (1968), além dos ensaios The fire next time (1963) e No name in the street (1972). Embora tenha vivenciado ataques racistas e homofóbicos em Istambul, onde passou a maior parte do tempo, o escritor e militante, encontrou certo refúgio para descansar, experimentar projetos criativos e aprofundar ainda mais a sua observação crítica a respeito dos Estados Unidos. Baldwin não aprendera a língua turca. Este fato, porém, não o impediu de construir fortes amizades (especialmente com artistas e ativistas) e nem tampouco o privou de mergulhar na realidade sociocultural da Turquia.
[17] É difícil não fazer certas associações com as obras Mancha roxa (1988) – pelo ambiente de encarceramento com todos os seus desejos reprimidos, seus recalques e suas opressões; ou até mesmo Navalha na carne (1967) – vendo a sombra de Veludo em Mona (ambas as personagens almejam o amor, mesmo imersos na destruição) ou a sombra de Vado em Rocky (símbolos desabridos de uma tirania masculina).
[18] […] the action of the play is really, at bottom, the effort of our victims to become something more than the numbers we stamp on their carte d’identite, or on their flesh” (BALDWIN, 1969, n.p., apud ZABOROWSKA, 2009, p. 175).
[19] What is relevant here is that I had never in my life seen so many black people in the theatre. And the reason was that never in the history of the American theatre had so much of the truth of black people’s lives been seen on the stage. Black people ignored the theatre because the theatre had always ignored them (BALDWIN, 1998, p. 758).
[20] I watched the people, who loved Lorraine for what she had brought to them; and watched Lorraine, who loved the people for what they brought to her. It was not, for her, a matter of being admired. She was being corroborated and confirmed […]. the black people crowding around Lorraine, wheter or not they considered her an artist, assuredly considered her a witness. This country’s concept of art and artists has the effect, scarcely worth mentioning by now, of isolating the artist from the people. One can see the effect of this in the irrelevance of so much of the work produced by celebrated white artists; but the effect of this isolation on a black artist is absolutely fatal. […] To continue to grow, to remain in touch with himself, he needs the support of that community from which, however, all of the pressures of American life incessantly conspire to remove him. And when he is effectively removed, he falls silent – and the people have lost another hope (BALDWIN, 1998, p. 758-759).