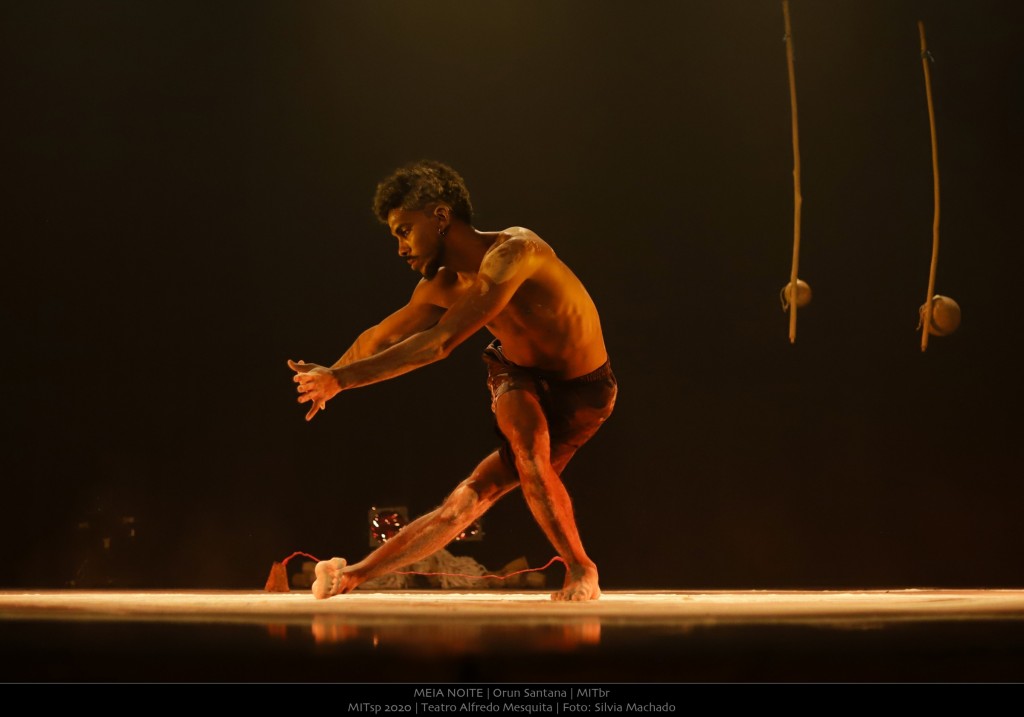– Por Victor Guimarães
Se a noite de quinta havia sido geométrica e gestual, a de sexta teria um tom inteiramente diferente. Se o texto anterior falava sobretudo de linhas e superfícies, cores e formas, neste será impossível não falar de narrativa, de palavra e de voz. Desde a primeira cena, a noite se enche de histórias, canções, contos, e predomina uma atmosfera de fábula, que será retomada ao longo da jornada. Aqui, as cenas parecem pedir um deslocamento do olhar crítico, que terá de mobilizar outros territórios na tentativa de uma primeira aproximação.
“Celeste, os Causos e o Boi” abre a noite instaurando um tom. A cena se impregna de ruralidade, das histórias de boiadeiro no interior, de uma musicalidade afro-mineira tradicional e de uma teatralidade fortemente popular. De saia de chita, uma senhora negra, mais velha, adentra o palco com um violão, cantando e dirigindo-se à plateia. A ela se juntará uma outra senhora, que fará as vezes de narradora, entre o conto e o canto. Na breve situação dramática que se esboça, a de uma casa de vó no interior, elas são a avó e a bisavó de três “erês”, interpretadas por três moças jovens, que entram em cena dançando com seus vestidos longos e uniformes.
A disposição dos corpos é interessante: há duas cadeiras no palco, onde se sentam as mais velhas, enquanto as moças circulam pelo espaço, como uma espécie de coro móvel e esvoaçante. A cena se move entre a contação de histórias e o musical, alternando constantemente entre as canções e breves momentos de interação entre avós e netas. Num deles, a avó se torna benzedeira, num pequeno ritual. O texto rimado não se limita aos versos, mas contamina também os diálogos. Do palco, elas frequentemente olham ao longe, em direção à plateia, como se a quarta parede fosse a janela de casa, de onde elas avistam os bois soberanos e os vaqueiros que despertam o interesse amoroso das mulheres. A figura do peão valente e a do touro bravo às vezes se misturam no texto, nessa dicção fabulatória que assume uma imaginação fantástica, impregnada de raízes africanas e indígenas. As figuras do boi e do vaqueiro, no entanto, permanecem apenas evocadas pela fala ou pelos versos.
Nessa transposição da teatralidade musical popular para o palco, certamente há uma pesquisa fecunda no horizonte. Na cena que vemos, no entanto, há ainda um ar de esboço, sobretudo no tratamento musical e na luz, muito homogênea, que por vezes parece deixar as atrizes-cantoras um tanto desprotegidas. Se essa dramaturgia interessada na cultura popular oferece muito a uma renovação do palco, o palco ainda parece ter mais a oferecer a esse teatro enraizado na ancestralidade. Essa tradução teatral pode ser ainda mais intensa, se os recursos visuais e sonoros que o palco propicia forem explorados em sua máxima potência.
A segunda cena, “CURA”, produz um corte abrupto na experiência da noite. Na escuridão do palco, dois atores vestidos de preto interpretam um conjunto de personagens urbanos, muito contemporâneos, que habitam um outro território imaginativo. É a história de um influenciador digital, coach de investimentos em rede social, faraó das criptomoedas, que engana um jovem incauto, é interpelado por um miliciano com nome de cachorro, por quem se apaixona, e outras peripécias nessa seara de um capitalismo agressivo e sem escrúpulos. Se na primeira cena predominava uma afetividade familiar, uma meiguice interiorana, aqui vivenciamos um mundo urbano corrupto e violento.
A luz é entrecortada ao extremo, e focos localizados pontuam o palco. No jogo físico entre os dois atores, os corpos fazem as vezes de objetos de cena: corpo-cadeira, corpo-celular, corpo-arma. Uma máscara de pitbull e um objeto redondo com um símbolo ₿, espécie de cifrão do Bitcoin, circulam entre eles, num incremento simbólico do tom áspero e violento do drama. Há muito humor e ironia, mas predomina um clima de sordidez, sem escapatória. Um mundo hiperconectado, virtualizado, que drena os afetos e as energias humanas.
Embora haja um conjunto de escolhas interessantes, a cena parece padecer de um excesso de velocidade e de estímulos homogêneos. Há um acúmulo de microcenas dentro da cena, que por vezes duram poucos segundos, e há poucas chances para que os personagens ganhem alguma espessura, alguma complexidade além da caricatura de figuras típicas do momento contemporâneo. O texto, constantemente gritado, também poderia se beneficiar de uma interpretação mais nuançada, menos constante. Esse tratamento faz com que a tensão sexual entre o influenciador e o miliciano, por exemplo, que poderia quiçá oferecer algum escape em meio à corrupção reinante, termine contaminada pela agressividade, beirando uma associação daninha entre o sexo e a sordidez.
“Mosca Varejeira”, a terceira cena da noite, dá um nó insuspeito na fabulação e na sordidez das cenas anteriores. A estrutura ancestral da fábula é assumida integralmente, com a história do animal-título, esse ser que é desprezado por todos, constantemente atacado por mãos enfadadas, esse que é habitante da merda alheia, e, no entanto, aqui é ostentado em sua exuberância singular. Se o beija-flor é o animal bonitinho que todos amam, que vive da ternura de beijar flores por aí, a mosca varejeira é essa que habita os baixios da existência, que ninguém quer ter por perto. Mas, aqui, a mosca é abraçada em sua fluorescência verde, extravagante, bela, e em sua potência revolucionária de dissolução das fronteiras apaziguadas.
De uma mala no centro do palco, emerge a mosca. A performer não binária Ava Scherdien surge abruptamente, com um figurino heteróclito feito de materiais brilhantes, acessórios em profusão e uns óculos escuros enormes, que fazem as vezes dos olhos do animal. Afrofuturismo e estética travesti se misturam em uma encruzilhada fecunda. O monólogo é cheio de frases lapidares, no melhor sentido, como “a merda aduba o mundo”. Ava se move pelo palco, encarnando essa mosca estudiosa que tem muito a dizer sobre uma política possível. Por vezes, interpela o público: “Qual é a sua missão na vida?”, pergunta. Diante das respostas pouco estimulantes que vêm da plateia, responde com humor ferino.
“Mosca Varejeira” propõe a fabulação de uma resistência subterrânea, um encontro fecundo a partir da escuridão e da merda. “Quando uma mosca varejeira encontra a outra, elas voam”, diz o texto. A proposta lembra a radicalidade do planejamento fugitivo e do estudo negro de Fred Moten e Stefano Harney, mas também o pensamento de Castiel Vitorino Brasileiro em torno da figura da travesti. É um pensamento da não-reconciliação, da elaboração de uma fuga possível da colonialidade a partir de “um lugar escuro, opaco para a branquitude”, como diz Castiel. Nesse encontro de moscas na merda, há uma fábula renovada, fugitiva, dissidente.
“Tucumã & Buriti – As Brocadas do Tarumã-açú”, a fabulação vem da Amazônia, para contar a história de duas irmãs que habitam um terreno ribeirinho, na vizinhança da mata. Uma veste um terno preto, brilhante, e um chapéu. A outra um vestido florido e tem os cabelos loiros. Uma é amiga da onça preta, da vermelha e da pintada, como o sobrinho do Iauaretê de Guimarães Rosa. A outra agarra cobras com a mão, mas morre de medo de onça. Mas elas nasceram grudadas pelo umbigo, e agora precisam se desgrudar porque uma quer ir embora, enquanto a outra quer ficar. Tucumã quer que Buriti mate as onças, pois só assim é possível quebrar o vínculo e permitir a partida.
Além de Nicka e Robert Moura, que interpretam as irmãs, há no palco três cabeças enormes de onça, que são constantemente manipuladas. As cabeças remetem às personagens que são o centro do conflito, mas não correspondem exatamente às figuras animais. São como máscaras polivalentes, que quase se tornam bonecos quando ativados pelas mãos. A luz é recortada, macia, belíssima, e contribui enormemente para que a atmosfera de fábula se instale e permaneça. Nesse mundo fluido, criado pela iluminação nuançada, a continuidade entre o mundo dos animais e dos humanos se intensifica, e a conclusão do conto, quando as onças escapam à morte e vêm se deitar junto às irmãs, faz mais sentido quando banhada por essa luz.
Já faz mais de um século que Antônio de Alcântara Machado clamava por um teatro brasileiro que incorporasse a teatralidade da cultura popular. Cenas como “Tucumã & Buriti – As Brocadas do Tarumã-açú” apontam um caminho, ao se servir das possibilidades visuais e sonoras do palco para uma tradução viva entre um mundo e outro. Essa noite povoada por bois, cachorros, moscas e onças que se imiscuem entre os humanos aponta para fabulações possíveis, enraizadas na tradição e abertas à experimentação contemporânea. Há ainda muito território possível a desbravar, à espera de elaborações fecundas.





























![Palavras e imagens, [“que estranha potência a vossa”]](https://www.horizontedacena.com/wp-content/uploads/2022/09/martelo-foice.jpg)